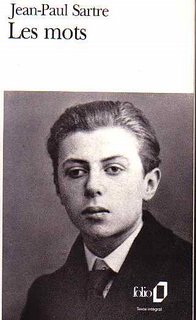Esta semana, o
New England Journal of Medicine tem um editorial sobre o aborto, a propósito da crescente oposição das autoridades de vários estados americanos à sua prática e dos efeitos (negativos) desta atitude sobre a saúde das mulheres - ou melhor, sobre a saúde pública, pois neste caso as mulheres estão implicadas por óbvias razões biológicas. Gostei do tom - sensato e contido, como sempre no
New England, mas inegavelmente contra esta tendência conservadora (eu diria - e ele diz - retrógrada) - e acho que se trata de uma questão muito importante, não só pelos importantes aspectos de saúde envolvidos - como sempre, minimizados pelos activistas "pró-vida" - como pelos aspectos civilizacionais que ilustra.
Com efeito, acho alarmante esta tendência para a condenação moral e legal do aborto nos Estados Unidos, sobretudo agora que encontrou o apoio do governo, controlado pelos hipócritas e beatos ultra-conservadores, a começar por Bush. Já escrevi em tempos
neste blog sobre o aborto, e qual a minha opinião sobre o assunto, que continua basicamente a mesma - sou a favor da despenalização e da livre realização, medicamente assistida, até um período a definir, por volta do fim do primeiro trimestre de gestação. Hoje não pretendo falar do aborto, mas do activismo anti-aborto, que acho um exemplo de como grupos de pessoas intolerantes, convencidas de que detêm a verdade (geralmente referida como a
Verdade, com maiúscula) e de que possuem o direito de decidir pelos outros - esses pobres infelizes que ainda não foram iluminados por Deus - e de os julgar e condenar quando eles actuam de forma não aprovada pelo
seu código de regras.
No caso do aborto, os números falam por si - 66% dos americanos defendem o direito a escolher o aborto, e no entanto 12 estados preparam-se para dificultar a sua realização de tal forma que na prática se tornará impossível. Já agora, o número de clínicas onde se pode realizar o aborto é reduzido e obriga a grandes deslocações de muitas mulheres. E, pior do que isso, essas clínicas trabalham sob ameaças de morte, tendo de cobrir as janelas com tapumes e blindar as portas para se defenderem de tiros, com os profissionais forçados a variar o caminho para o trabalho diariamente com receio dos atentados, e sendo constantemente insultados e acusados de assassinos por turbas de manifestantes - as
virtuosas defensoras da vida. Não admira que as clínicas escasseiem cada vez mais!
Ou seja, este é mais um caso em que minorias conservadoras e intolerantes conseguem ter uma influência completamente desproporcionada ao seu número devido a tácticas como a intriga, a pressão, a publicidade e, sobretudo, a violência. Nothing new - não foi o que se fez ao longo da História, Hitler incluído? Só que isso não é desculpa. Pode-se pensar como se quiser, e cada um tem o direito de achar bem ou mal o aborto, mas nada dá o direito a ninguém de agredir, insultar, humilhar e proibir os outros de o fazer. Mas infelizmente este
hooliganismo virtuoso parece compensar. (Outro exemplo, disparatado mas ilustrativo, foi a história da mama de fora de Janet Jackson: as "retumbantes reacções de protesto" afinal vieram de um número reduzido de virtuosos que utilizaram cadeias de amplificação de mensagens para aumentarem a sua representatividade... e resultou.)
Entretanto, parece que em Portugal se discute novo referendo... Mais uma ocasião para o exercíco da hipocrisia e da virtude. Pessoalmente, sou contra o referendo, acho que a questão devia ser simplesmente legislada como qualquer outra e é um mau sistema passar a referendar por tudo e por nada.
Felizmente, há sempre pessoas corajosas, que continuam a fazer um trabalho que beneficia numerosas mulheres, mesmo trabalhando nas condições perigosas e desgastantes em que o fazem (a que não é estranha a quantidade de processos a que têm de responder). É o caso de Carhart, o médico referido no editorial, cuja clínica de janelas cobertas de tapumes mostro na fotografia, e que teve a sua casa incendiada pelos virtuosos "defensores da vida".